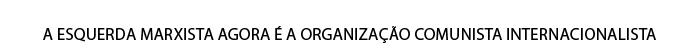Em torno do 7 de setembro, no 199° aniversário da Independência do Brasil, a classe trabalhadora esteve em meio às competições pela bandeira nacional e outros símbolos verdes e amarelos. De um lado, temos o ufanismo bolsonarista com sua política reacionária. De outro, a tentativa das direções sindicais em disputar o verde e o amarelo como pertencentes à classe trabalhadora em vez de mobilizá-la para derrubar o governo Bolsonaro. Diante de tantas confusões, devaneios chauvinistas e desconhecimento sobre os reais significados dos símbolos nacionais, os marxistas devem ser os primeiros a reivindicar a história para explicá-la ao proletariado e à juventude.
A querela nacionalista é um elemento permanente na sociedade de classes. A consolidação do Estado moderno, fruto das necessidades capitalistas, trouxe consigo o destaque ideológico para esse artifício de unidade, servindo para as disputas entre os interesses das classes dominantes de cada nação. Embora as produções, trocas e relações sejam, majoritariamente, internacionais desde tempos mercantis, o capitalismo reforçou o patriotismo e a busca por comunhão nacional com o intuito de cimentar as fronteiras estatais. Ainda assim a questão e os símbolos nacionais possuem uma história e uma atualidade muito mais complexas do que considerava, por exemplo, o literato inglês do século XVIII, Samuel Johnson, quando afirmou que o “patriotismo é o último refúgio dos canalhas”, especialmente em países dominados pelo imperialismo como o Brasil.
A Bandeira Nacional do Brasil
Originalmente, uma bandeira trata-se de uma representação visual surgida a partir da unidade militar do Império Bizantino (395-1453), chamada “bandum”. Tal como conhecemos hoje, as bandeiras foram criadas na região da Índia, adentrando a Europa apenas na Idade Média pelas mãos dos muçulmanos e tendo a sua primeira regulamentação no velho continente no reinado de Afonso X de Leão e Castela, na Península Ibérica, no século XIII.
Sendo um símbolo historicamente recente, o Brasil colônia não possuía uma bandeira, pois a própria metrópole, o império português, só passou a ter uma em 1830. Anteriormente, os brasões militares dos monarcas serviam como representação da nação e a América Portuguesa era, no máximo, associada à Cruz Vermelha da Ordem de Cristo e à Esfera Armilar de navegação.
Porém, em 1808, a corte de Dom João fugiu das invasões napoleônicas para o Rio de Janeiro e, em 1815, criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, dando origem ao que se pode considerar uma primeira “bandeira nacional”. Nela manteve-se o brasão português com o acréscimo da esfera armilar – representando o Brasil – ambos sob a coroa. Contudo, esta teve vida curta, visto que o retorno da corte para Portugal ocorreu em 1821 com o intuito de responder à Revolução Liberal do Porto, abrindo espaço para o “fico” do filho, Pedro I, e a independência diante a metrópole em 7 de setembro de 1822. Na prática, isso significou a transferência do Brasil de colônia portuguesa para colônia do capital britânico.

Assim, com a tardia e conservadora independência do Brasil, a bandeira escolhida para representar o novo país não teve qualquer novidade para o que a monarquia portuguesa estava acostumada, muito menos uma superação do antigo regime. Desenhada pelo célebre artista francês Jean-Baptiste Debret, foi adotada como símbolo nacional uma inspiração dos pavilhões do Exército francês de Napoleão Bonaparte, mas com as cores das famílias reais do Brasil: o verde da família Bragança e o amarelo da família Habsburgo.
O estandarte também recebeu as antigas representações da colônia, isto é, a Cruz Vermelha, a esfera armilar e a Coroa, além de referências à produção escravista do país, com os ramos de café e tabaco, e as províncias em estrelas. A bandeira e seu verde e amarelo eram, portanto, símbolos da monarquia europeia que manteve o Brasil e seu povo cativos dos desmandos reais e da escravidão. Este modelo permaneceu de 1822 a 1889.
Enquanto no restante do continente a república vigorava, pelo menos, desde 1810, o Brasil superou a monarquia somente no final do século XIX. A vitoriosa conspiração militar dirigida por Deodoro da Fonseca foi capaz de derrotar a decrépita monarquia, mas também esmagou as revoltas populares republicanas.
Apesar de ser um avanço se comparada com a monarquia, a República de 1889 era militar, latifundiária e burguesa, não possuindo a popularidade entre a classe trabalhadora que seus dirigentes necessitavam. Devido a isso, os primeiros meses foram de uma incessante busca pela assim chamada identidade nacional. Se quando Pedro I declarou sua permanência no Brasil foi a escravidão o elemento de unidade entre os governadores das províncias, eliminando a possibilidade de balcanização do país, na República a violência militar e a ideologia nacional foram os fatores para que se consolidasse o novo regime.
Logo nos primeiros momentos da República, em vários locais, a bandeira nacional passou a receber uma estrela vermelha no lugar da antiga Coroa da monarquia, visto que a estrela era um símbolo do republicanismo. Mas a grande influência entre a intelligentsia burguesa era, indubitavelmente, o americanismo estadunidense, carregado pela máxima: “Somos da América e queremos ser americanos”, significando a rejeição à Europa e sua tradição monárquica. Mas ressaltamos que, principalmente entre os militares mais próximos às classes populares, a influência francesa também era muito forte, tanto em defesa de uma bandeira tricolor quanto pelo desejo do hino nacional republicano ser inspirado na Marselhesa, música revolucionária universal. Na disputa do hino à francesa estavam Silva Jardim, Olavo Bilac e Luís Murrat, que se propunham a compor uma Marselhesa brasileira, nos fins dos anos 1880.
Entre os americanistas, a primeira efetiva proposta de bandeira nacional foi uma mera substituição de cores da bandeira dos Estados Unidos, desenhada por José Lopes da Silva Trovão, um médico e jornalista carioca, que foi içada na Câmara Municipal da então capital em 15 de novembro de 1889 por José do Patrocínio. Dias depois, a mesma bandeira foi levemente modificada pelo intelectual e homem forte da República, Ruy Barbosa. Porém, a ideia de copiar a bandeira dos EUA não foi aceita pelo presidente marechal Deodoro da Fonseca, pois poderia descredibilizar sua tentativa de consolidar uma identidade realmente brasileira. O governo de Fonseca teve traços ditatoriais, logo no primeiro mandato da República, justamente devido à violência travada contra seus opositores e o personalismo empreendido pelo marechal.

Como dito, a disputa pela nova bandeira também recebeu outras propostas, incluindo uma tricolor em vermelho, branco e preto, que deveria reforçar e impregnar na consciência nacional o mito fundador do Brasil, sendo uma das mais conhecidas a do jornalista Antônio da Silva Jardim e abraçada pelos militares de baixa patente. Isto é, as cores significariam a “amálgama racial” entre o indígena, o europeu e o africano, tal como promoveram alguns autores burgueses no país, originada dos escritos do naturalista alemão Carl Friedrich Von Martius. Essa proposta não vingou, mas passou a ser a representação do estado de São Paulo, a partir das sugestões de José Paranhos e Júlio Ribeiro.
Dessa forma, a saída encontrada pelos militares, com o aval de Fonseca, foi a reutilização dos antigos símbolos monarcas não somente para a bandeira, mas para outros elementos nacionais, incluindo os do catolicismo. Para estes republicanos, isto daria para a população um reconhecimento e espírito de pertencimento ao novo regime, visto que, segundo estes, o povo estaria acostumado com tais representações da unidade nacional.
Por isso, nem mesmo as cores das famílias reais foram substituídas com a oficialização da nova bandeira em 19 de novembro de 1889, sendo apenas seus sentidos supostamente modificados. Agora o verde deveria ser visto como o patrimônio ambiental e o amarelo-ouro pela riqueza do país. Entretanto, essa mesma interpretação das “cores nacionais” já havia sido feita por Pedro I, em 1822. A novidade apareceu somente com a esfera azul estrelada sendo as unidades federativas, simbolizando o céu do Rio de Janeiro de 15 de novembro de 1889, e o lema positivista que representa a violência militar e burguesa desta República, “ordem e progresso”, imposto por Benjamin Constant, o principal ideólogo do regime.
Lições da história
Evidentemente, a bandeira é fundamental para a consolidação dos símbolos de um novo sistema político. O mesmo se reproduziu com a escolha do hino nacional, que, em meio a disputas, permaneceu sendo o monárquico de 1831, composto por Francisco Manuel da Silva e Joaquim Osório Duque-Estrada. Diferente de mitos fundadores, heróis da nação e demais alegorias ufanistas, bandeira e hino não podem ser móveis, imprecisas e maleáveis. Para possuir e dar legitimidade representativa ao Estado e às classes dominantes, devem ser estabelecidas por legislação, com data, horário e circunstâncias certas, tal como a celebração do 19 de novembro em todos os anos.
Portanto, aprendemos com a história que a República brasileira e seus símbolos nacionais não possuem um caráter antagônico ao regime monárquico e escravista. Ela deu-se como uma continuidade objetiva e subjetiva para o povo trabalhador, que seguiu sendo superexplorado tal como antes, com seu sangue vermelho manchando a flâmula monarca e burguesa. Isso porque as disputas que circundam tais escolhas, mesmo que ferrenhas e expressão das cisões entre as elites, também demonstram a manipulação do imaginário coletivo e popular e a unidade entre os exploradores quando a questão é defender seus interesses contra a classe trabalhadora.
O Estado e a burguesia forjam violentamente uma emoção cívica para os trabalhadores e a juventude como fator integrante de sua ideologia. Trata-se da composição do falseamento da realidade, buscando consolidar uma suposta identidade nacional para que os antagonismos e interesses conflitantes sejam escondidos. Nessas elaborações também é possível ver o atraso do Estado e da burguesia brasileira em comparação com os processos das revoluções burguesas, como a francesa e a norte-americana. Na França, os símbolos nacionais republicanos passaram por uma radical ruptura com as representações do Antigo Regime monárquico, que era identificado pela flor-de-lis e foi substituído pela bandeira tricolor, tornando-se o guia imagético para todos os processos de consolidação de Estado-nação. Os revolucionários dos EUA, especialmente na segunda revolução (1861-1865), também buscaram se desvencilhar de todo o atraso das relações colônia-metrópole e do escravismo com seus novos símbolos nacionais.
Entretanto, no Brasil, isso não significa que os revolucionários e os comunistas devam rasgar e queimar a bandeira e os demais símbolos nacionais. Tal ato esquerdista significaria distanciar-se do próprio povo trabalhador que, forçosamente, se identifica com essas representações, sendo essas ações somente infantilidades que em nada ajudam na luta contra o capitalismo e seu Estado. Na realidade concreta, as transformações sociais são realizadas a partir da ação consciente e organizada dos trabalhadores na luta de classes, não por depredações ao patrimônio histórico do país.
Em vez disso, o papel dos comunistas deve ser o de conhecer a história e explicar as motivações para nosso “natural” patriotismo. Eventos como o do último 7 de setembro, tal como orquestrado pelo governo Bolsonaro e os capitalistas, que seguem entregando as riquezas nacionais ao imperialismo, não possuem nenhum traço verdadeiramente em defesa do país e de nossas potencialidades.
Na realidade, a efetiva defesa e conquista das riquezas, culturas e histórias nacionais só podem ser feitas por um programa socialista e internacionalista. É nessas lutas dialéticas que o povo trabalhador será capaz de assegurar o que é realmente seu de direito: pão, paz, terra, trabalho, educação e todo o desenvolvimento necessário para que a humanidade alcance um mundo sem fronteiras e a extinção da exploração do homem pelo homem.
Referência:
CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
 Organização Comunista Internacionalista (Esquerda Marxista) Corrente Marxista Internacional
Organização Comunista Internacionalista (Esquerda Marxista) Corrente Marxista Internacional